Novo álbum expande os 15 minutos do Maneskin

Maneskin – Rush
53′, 17 faixas
(Sony)
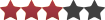 (3 / 5)
(3 / 5)
Tão equivocado quanto defenestrar antecipadamente o quarteto romano Maneskin é enxergá-lo como uma espécie de salvação para o rock. Como se dizia lá em casa, “nem tanto ao mar, nem tanto à terra”. Ao longo das dezessete faixas de seu terceiro álbum, “Rush”, é possível ver que o grupo tem mérito e inteligência de sobra e sabe muito bem o que vem fazendo desde que despontou para o mundo a bordo de duas canções em especial: a cover da cover de “Beggin'”, sucesso de 1967 do grupo Frankie Valli and Four Seasons (com arranjo copiado do grupo norueguês Madcom) e “Zitti e Buoni”, com a qual venceram o Eurovision de 2021. Ambas mostram que Damiano, Victoria, Thomas e Ethan são sujeitos espertos e sabem que estão em seu grande momento como artistas. Sua banda tem fama mundial, um público que parece fiel e, mais que isso, consegue cativar o coração de órfãos do rock, que esperaram um bom tempo para ver uma banda “convencional” conquistar fama e sucesso ao redor do mundo.
Pense se o Maneskin não é exatamente isso. Um grupo bem jovem tocando rock com referências setentistas, embaladas de forma convincente para soarem novas. Mais que Killers e Franz Ferdinand – talvez as mais recentes influências do Maneskin – os italianos não hesitam em pisar fundo nos terrenos do glam e do hard rock, devidamente visitados a partir de reinterpretações. Por exemplo, há mais de Muse do que de Queen na sonoridade dos caras. Há mais de Katy Perry cantando “I Kissed A Girl” do que de um eventual single glam velhusco do Slade ou semelhante. Na verdade, isso menos importa para a maioria dos fãs jovens do grupo, que querem cantar suas músicas no quarto, diante do espelho, fingindo ser rockstar e/ou ver o quarteto subir no palco e se comportar como se estivesse na balada, cantando, se divertindo, “quebrando tudo”, com a baixista gatinha indo para dentro da galera, enquanto o trio remanescente sustenta melodias convincentes o bastante.
A dieta musical do Maneskin não é farta. Não são uma banda com talento para dar ao público alguma fração de inovação ou evolução estética e nem é o caso por aqui. Banda e fãs querem prolongar ao máximo esses quinze minutos de exposição, no qual o quarteto vem ao Brasil e encanta milhares de jovens que estão ali, dispostos a tudo por sua novíssima banda mais querida do mundo. Neste ponto, o Maneskin é preciso. “Rush”, o terceiro disco que lançam, tem, sim, uma diferença em relação aos anteriores: tem a maioria de suas letras em inglês, mostrando que, sim, para manter um sucesso mundial, é preciso cantar neste idioma, por mais que os fãs raiz (sim, tem fã raiz do Maneskin) prefiram o idioma mediterrâneo. Prova da visão internacional do quarteto é a participação de Tom Morello, guitarrista do Rage Against The Machine, em “Gossip” (cujo início lembra levemente “Tindolelê”, da Xuxa), uma das canções mais legais de “Rush”.
Mas não é só isso. Há momentos no álbum em que o grupo se mostra senhor de seu jogo, a ponto de ousar. Em “Bla Bla Bla”, Damiano faz críticas ao discurso fácil, palavras vazias e no quanto elas podem machucar e dizer coisas sérias, num arroubo existencial. Tem aceno a uma outra influência sonora, o Red Hot Chili Peppers, em “La Fine”, tem levadinha inteligente de baixo e bateria na introdução dançante de “Mamma Mia”, que traz todos os ingredientes da variante sexy do Maneskin. Tem roquinho com baixo distorçido em “Kool Kids”, na qual o Maneskin tenta emplacar um sotaque britânico e tem as mais tocadas do disco até agora: “Supermodel”, com uma guitarrinha que emula “Smells Like Teen Spirit” e “The Loneliest”, baladucha noventista que emula Bon Jovi e quetais.
“Rush” deverá fazer a felicidade de fãs imberbes – o que é lógico – e dos fãs velhos de guerra, que buscam reviver o momento de glória do rock clássico ou algo assim. Seja o que for, o Maneskin não tem nada a ver com eles, é uma banda jovem se divertindo enquanto fatura rios de dinheiro.
Ouça primeiro: “Gossip”

Carlos Eduardo Lima (CEL) é doutorando em História Social, jornalista especializado em cultura pop e editor-chefe da Célula Pop. Como crítico musical há mais de 20 anos, já trabalhou para o site Monkeybuzz e as revistas Rolling Stone Brasil e Rock Press. Acha que o mundo acabou no início dos anos 90, mas agora sabe que poucos e bons notaram. Ainda acredita que cacetadas da vida são essenciais para a produção da arte.




