Beyoncé dá sua versão pessoal para o country

Beyoncé – Cowboy Carter
78′, 27 faixas
(Columbia)
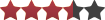 (3,5 / 5)
(3,5 / 5)
Em primeiro lugar: este não é um disco de country music. Pelo menos, não como a maioria das pessoas encara o estilo. Mas, a seu modo, é um trabalho em que Beyoncé se vale de algumas influências próprias e samples de canções que tangenciam o universo estilístico americano mais clássico. Resumindo, “Cowboy Carter” é mais um disco de Beyoncé do que qualquer outra coisa. É uma obra tipicamente concebida, produzida e lançada pela superstar pop americana, provavelmente a maior e mais influente do planeta atualmente. Ela está declarando que, sim, pode – e vai – se apropriar dessas referências majoritariamente brancas e conservadoras do country, que mais dizem respeito aos ouvintes do que aos artistas – e torná-las próprias. E este disco é exatamente o estudo de caso que Beyoncé, texana de nascimento, oferece a si mesma e aos ouvintes, devidamente revestido de posturas anti-conservadoras em relação ao que pode – ou não – ser feito no estilo. O resultado, no entanto, é mais um disco pop com produção super-luxuosa, feita com tudo o que o dinheiro pode comprar em 2024. E tudo isso está a favor da diva, que leva quase oitenta minutos para dar seu testemunho.
Este é o segundo álbum de uma trilogia imaginada por Beyoncé, que teve início com o disco anterior, “Renaissance”, lançado em 2022 (cuja resenha você lê aqui). A ideia é, justamente, tomar referências de estilos que não são muito povoados por artistas negros. Se o caminho de “Renaissance” passava pela house music e pela música eletrônica da virada dos anos 1980/90, em “Cowboy Carter”, como já dissemos, a country music é o objeto estético em jogo. Para tal empreitada ter êxito, Beyoncé percebeu que precisaria expandir sua palheta sonora. Buscou a chancela de dois ícones do estilo, Willy Nelson e Dolly Parton, e os convidou para o álbum. Além desta chancela, digamos, presencial, Beyoncé entendeu que seria uma boa ideia gravar uma cover de “Blackbird”, dos Beatles, justo porque a canção, composta por Paul McCartney, faz referências explícitas à luta pelos direitos civis nos Estados Unidos dos anos 1960, além de ter uma melodia-arranjo folk pungente que poderia ser inserido no contexto de “Cowboy Carter”. Funcionou.
O disco, no entanto, poderia ser menor. Há canções inegavelmente legais por aqui, especialmente o single “Texas Hold’em”, que poderia ser considerado uma gravação moderna de country, até porque, o estilo já não é o mesmo há bastante tempo e incorporou detalhes eletrônicos, estéticas diferentes e hoje tem na ótima Kacey Musgraves uma de suas maiores estrelas. Mas Beyoncé não está aqui para seguir uma cartilha preexistente, pelo contrário, ela quer mostrar o que acha que deveria ser considerado “country” e isso lhe concede liberdade artística, que se transforma em verdade para seus ativos fãs em questão de segundos. Por exemplo, a melhor faixa do álbum, “Bodyguard”, é uma balançada canção r&b pop oitentista perfeita, que talvez funcionasse na voz de uma Shania Twain da vida, tamanha a acessibilidade da gravação, que promete ser uma das ótimas canções dançantes do ano. Outra incursão que não seria “country” é a faixa de abertura, “American Requiem”, que evoca o clima de “For What’s Worth”, de Stephen Stills em sua fase Buffalo Springfield, para fazer aquela análise de conjuntura do fracionamento do país do Tio Sam atualmente. O clima é den soul music moderna, com infusões de folk e eletrônica, com ótimo resultado.
A presença de Dolly Parton surge num pequeno diálogo com Beyoncé, chamado “Dolly P”, com 22 segundos, que serve de introdução à cover de “Jolene”, um dos grandes clássicos do country pop radiofônico setentista. Willy Nelson, outro highlander do estilo, surge como um DJ que apresenta o programa de rádio hipotético “Smoke Hour”. E falando em rádio, há uma pisada homérica na bola, que atende pelo nome de “Ya Ya”, que é uma colcha de retalhos de samples de “These Boots Are Made For Walking” (Nancy Sinatra), “Good Vibrations” (Beach Boys) e outras citações ao pop sessentista dourado, que soa muito plástica e sem sentido. Melhor ficar com o balanço pop de “Levii’s Jeans”, cantada em dueto com outro texano progressista, o trapper Post Malone ou com a homenagem à pioneira negra do country, Linda Martell, em “Spaghetti”, com participação da própria. E tem “16 Carriages”, uma balada delicada, na qual a superstar pode mostrar seus dotes vocais sem sustos ou referências em excesso.
Se há um mal em “Cowboy Carter” é o desejo de empilhar referências, como se Beyoncé estivesse apresentando um seminário na faculdade e precisasse mostrar aos professores que leu muitos autores. O disco funciona sozinho, mas é mais um trabalho de apropriação da cantora e não um artefato que pertence naturalmente a um estilo. E isso faz muita diferença, para o bem ou para o mal.
Ouça primeiro: “Texas Hold’em”, “Bodyguard”, “16 Carriages”, “American Requiem”

Carlos Eduardo Lima (CEL) é doutorando em História Social, jornalista especializado em cultura pop e editor-chefe da Célula Pop. Como crítico musical há mais de 20 anos, já trabalhou para o site Monkeybuzz e as revistas Rolling Stone Brasil e Rock Press. Acha que o mundo acabou no início dos anos 90, mas agora sabe que poucos e bons notaram. Ainda acredita que cacetadas da vida são essenciais para a produção da arte.




