O apocalipse pessoal segundo Nick Cave
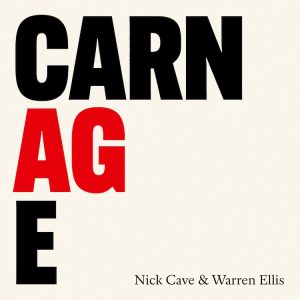
Nick Cave e Warren Ellis – Carnage
Gênero: Rock alternativo
Duração: 40 min.
Faixas: 8
Produção: Nick Cave e Warren Ellis
Gravadora: Goliath
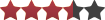 (3,5 / 5)
(3,5 / 5)
Há muitos admiradores do trabalho de Nick Cave na imprensa musical estrangeira e, por conseguinte, na brasileira. Mas não é em todo o seu escopo: o pessoal mais jovem não se conecta muito com a verve dark do bardo australiano e seu mimetismo de misturar influências de Leonard Cohen com o pós-punk oitentista e, a partir disso, a construção de uma obra complexa, diversa e, bem, um tantos superestimada. Só que, mesmo pensando assim, negar a importância que Cave adquiriu ao longo dos anos 1990 e depois, é ignorar um dos artistas relevantes em ação ainda capazes de fazer álbuns complexos e dotados de conceitos interessantes. Este “Carnage” é um desses trabalhos. Ele é cheio de camadas, a começar pela aura do “disco surpresa”. Até então, ninguém sabia que Cave estava gravando um disco durante a pandemia e, segundo consta, nem era para haver um trabalho fechado assim. E justo com a presença de Warren Ellis, parceiro dos tempos de Bad Seeds – banda que acompanhou Nick por bastante tempo -, que vinha se dedicando há tempos a trilhas sonoras cinematográficas.
Segundo entrevista de Cave, as oito músicas do álbum surgiram em dois dias. Depois a dupla foi burilando e polindo os arranjos que são, basicamente, compostos das letras canto-faladas de Nick e das pinturas sonoras que Ellis constrói em torno delas. Há uma aura eletrônica presente, visto que temos teclados, baterias eletrônicas e pinceladas de guitarras e pianos aqui e ali. O resultado às vezes é cansativo, ainda que haja bons momentos ao longo das oito faixas. Basicamente é um anti-gospel, muito calcado na palavra de Nick do que no invólucro musical, algo que é seu modus operandi há bastante tempo e que exige muito do ouvinte que não é um iniciado em relação à sua música. Nick se tornou uma espécie de narrador, de não-pregador, algo que é legítimo em seu trabalho mas, num plano importante, deixa de lado a parte musical, sacrificando-a em favor desta preferência pela narrativa. Mas, por outro lado, ele tem seus motivos pra essa opção.
Em 2015 ele perdeu seu filho Arthur, que caiu de um penhasco em Brighton, na Inglaterra, onde a família mora há tempos. Nick estava gravando o álbum “The Skeleton Tree” e o impacto da perda não atingiu em cheio o disco. O músico só documentou a dor e os efeitos acachapantes da dor no trabalho seguinte, “Ghosteen”, elogiadíssimo ao redor do mundo como um trabalho “fora das escalas”. E este impacto ainda pode ser sentido em “Carnage”, ainda que ele seja mais conciso e focado do que o anterior. E que também ele acrescente aos temas visitados a dor e o pasmo por conta da pandemia da covid-19 e seus impactos na humanidade ao longo do último ano. Portanto, gente, o que Nick oferece aqui é um percurso de 40 minutos de pura dor, lamento e fúria em relação ao mundo e à situação que nos encontramos. Repito: é legítimo.
As canções variam dentro do mesmo parâmetro. Algumas são muito impressionantes, caso da faixa de abertura, “Hand Of God”, que é, de fato, uma não-missa, que adentra o peito do ouvinte com doses diferentes de tons sombrios, seja na letra, desesperada e soando como alguém pregando o fim do mundo para uma multidão surda. E pelo belo trabalho de Warren Haynes no arranjo, que mistura timbres de cordas e uma batida discreta e rapidíssima nos subterrâneos da canção, causando, junto com a voz lamuriosa, um efeito estranho e cativante. Outro momento de encaixe perfeito é “White Elephant”, que vai caminhando como um animal nas sombras e vai crescendo em meio a cordas obsessivas que vão surgindo do nada. “Albuquerque” também vai nesta mesma onda, ainda que tenha um tom mais otimista e melódico, por assim dizer.
Na verdade, “Carnage” é uma espécie de ciclo de canções que vão conduzindo o ouvinte por um caminho de dor e provação, mas que, em última instância, usa a figura de Nick Cave como uma espécie de guia turístico por estes terrenos difíceis, como uma prova interessante de esperança. É como se ele dissesse que, se suportou essas provações e segue aqui, produzindo, gravando e oferecendo o coração ao público, cada um, de seu jeito, talvez consiga semelhante resultado.
Por mais que a carreira de Nick não me seja tão querida e importante, é difícil ficar imune a este álbum. Mas ele é dessas obras de beleza dolorida, como, por exemplo, o longa canadense “Incêndios” ou o filme “Menina de Ouro”, de Clint Eastwood. A gente vê uma vez e, talvez, não volte mais. Mas a marca fica para sempre.
Ouça primeiro: “Hand Of God”, “White Elephant”, “Albuquerque”

Carlos Eduardo Lima (CEL) é doutorando em História Social, jornalista especializado em cultura pop e editor-chefe da Célula Pop. Como crítico musical há mais de 20 anos, já trabalhou para o site Monkeybuzz e as revistas Rolling Stone Brasil e Rock Press. Acha que o mundo acabou no início dos anos 90, mas agora sabe que poucos e bons notaram. Ainda acredita que cacetadas da vida são essenciais para a produção da arte.




