Noturnos – Histórias de Música e Anoitecer
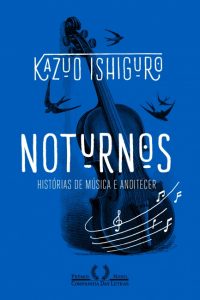
Desejando poupar tempo e antecipar prazeres ao leitor benigno, não pretendo resenhar aqui, por inteiro, a delicada reunião de contos de Kazuo Ishiguro, intitulada “Noturnos: histórias de música e anoitecer”. A catalogação sistemática classifica a obra como “contos japoneses”, um equívoco, certamente, atribuível ao fato de que Kazuo, de 65 anos, nasceu no Japão e mudou-se para a Inglaterra com apenas 5 anos de idade.
Tenho em mãos a segunda edição, um livro de capa azul forte e bonito, que integra o relançamento das obras do autor depois do Nobel de 2017, cada qual com capa monocromática cuja cor derrama-se pela lombada, dando a impressão de que poderá invadir e manchar suas páginas. O livro é de 2009, a primeira edição brasileira de 2010 e a tradução é de Fernanda Abreu (homônima da cantora, certamente).
Para quem gosta de literatura, e sobretudo para quem aprecia essa mistura singular e recursiva de músicos leitores e escritores amantes da música, livros que falam de música ou músicas onde ecoam livros, a ponto de sair em busca das gravações citadas nos textos ou dos livros que os músicos andam lendo, recomendo fortemente a leitura.
Claro, não se trata de avaliar se as músicas citadas são boas ou se os músicos escolhem bem o que andam lendo, mas simplesmente de música e literatura. Basta, talvez, comentar as duas primeiras narrativas, embora nenhum comentário seja capaz, efetivamente, de reproduzir a delicadeza da linguagem.
Duas histórias de casamentos em crise com desenlaces opostos, se é que ainda seja possível falar em desenlace, num tom definitivo, quando se trata de longas histórias conjugais. Ponhamos então: encaminhamentos opostos para a continuidade da vida. São histórias de tons crepusculares, como informa o texto da orelha do livro. O que há em comum entre elas é o protagonismo da música, não haveria história, não haveria personagens nem intriga se não houvesse a música.
A música de Tony Gardner, crooner americano da velha guarda, o preferido da mãe do menino Jan, vivendo tempos difíceis no leste comunista, e a música de Jan, agora violonista tocando numa banda ao ar livre na Piazza San Marco, em Veneza, justo naquela manhã de primavera em que Gardner se senta numa mesa da praça para matar o tempo, enquanto espera o retorno da esposa, Lindy. Senhor e senhora Gardner, 27 anos de casados, vão a Veneza numa última viagem antes da separação porque, enfim, um casamento não pode durar tanto assim na cena musical e artística.
Procure no Spotify, se você for assinante: By the time I get to Phoenix, com Glenn Campbell, senão Johnny Rivers, Oscar Peterson ou Isaac Hayes; encontre, quem sabe, o veludo improvável de Chet Baker entoando I fall in love too easily, se não preferir o metal de Miles Davis; ouça Sinatra ou Tony Bennet em One for my baby. Todas canções que Gardner canta numa última serenata para Lindy, acompanhado pelo violão de Jan, numa gôndola, sob a luz tênue do apartamento onde estão hospedados.
A música, sempre a música, que mantém conectados, mesmo à distância, num misto de admiração e repulsa, antigas amizades ainda dos tempos da universidade, entre o professor de inglês que vive na Espanha e o casal londrino que confia no fracasso do amigo para promover, pelo contraste, a admiração e o reconhecimento mútuo na condução de suas vidas, e nesse reconhecimento encontrar o combustível capaz de reacender a chama de um amor desgastado.
Em apenas um ponto o total fracasso financeiro e afetivo do amigo não permite consumar, do ponto de vista simbólico, uma degradação sem retorno: seu reconhecido bom gosto musical, admirado por Emily e de certo modo desprezado, senão invejado por Charlie. Ela, muito mais que ele, compartilhava com Ray, na antiga vitrolinha portátil, o Grande Songbook Americano.
Em nome da velha amizade com Charlie, compartilhando antigas emoções com Emily, Ray vai se desincumbindo como pode da missão: – Que porra de amigo… – exulta Charlie ao telefone. –Você é um bom amigo, Raymond, que faríamos sem você? – sussurra Emily enquanto dançam no terraço ao som de April in Paris, na voz de Sarah Vaughan. – Se sou um bom amigo, fico feliz, porque não sou muito bom em mais nada!
O trompete de Clifford Brown, na versão de 1954, parecia confirmar que o amor, de fato, na Espanha ou no Japão, em Londres ou em Frankfurt, merece ser preservado custe o que custar, quer chova ou faça sol.

Everardo Andrade é doutor em Educação pela Universidade Federal Fluminense e Professor Associado do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFF, e do PROFHISTÓRIA. É vice-coordenador do CDC – Grupo de Pesquisa Currículo, Docência & Cultura, da Faculdade de Educação da UFF, brizolista histórico, rubro-negro e boa praça.




